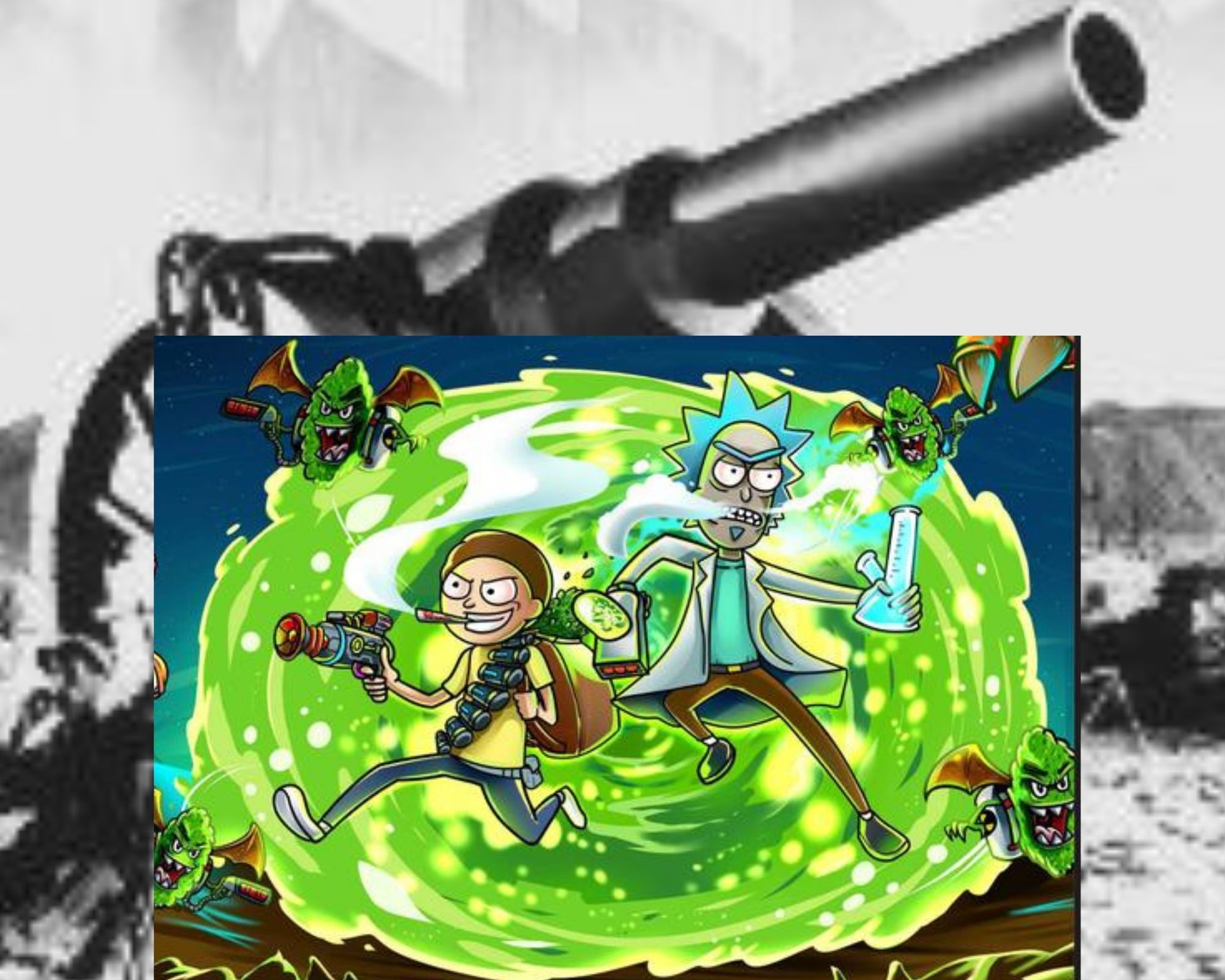Hoje, 13 de maio, mais uma vez é revelada à opinião pública nacional a memória da escravidão em nosso país. Timidamente publicizada e discutida na esfera pública brasileira, a data de hoje é lembrada como o dia da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 1888.
O Br asil, como sabe, foi um dos últimos países do mundo a decretar formalmente o fim da escravidão. No Brasil, também como já sabe atualmente graças a nova historiografia, a sociabilidade escravocrata passava longe dos ensaios míticos e edílicos dos escritos de Gilberto Freyre. Conforme já assinalado por Caio Prado Junior (contemporâneo de Freyre), e mais recentemente pelo sociólogo fluminense Adalberto Cardoso, a escravidão entre nós foi a total impossibilidade da aplicabilidade da dialética hegeliana entre o senhor e o escravo, visto que no esquema hegeliano, há um pressuposto de humanidade compartilhada entre as duas partes (sujeitos) envolvidas na relação. Inversamente, no regime de escravidão brasileiro a desumanidade foi o pressuposto da relação. Não por acaso, o negro escravo era enxergado como despossuído de humanidade e como vida matável, conforme os caprichos do seu senhor.
asil, como sabe, foi um dos últimos países do mundo a decretar formalmente o fim da escravidão. No Brasil, também como já sabe atualmente graças a nova historiografia, a sociabilidade escravocrata passava longe dos ensaios míticos e edílicos dos escritos de Gilberto Freyre. Conforme já assinalado por Caio Prado Junior (contemporâneo de Freyre), e mais recentemente pelo sociólogo fluminense Adalberto Cardoso, a escravidão entre nós foi a total impossibilidade da aplicabilidade da dialética hegeliana entre o senhor e o escravo, visto que no esquema hegeliano, há um pressuposto de humanidade compartilhada entre as duas partes (sujeitos) envolvidas na relação. Inversamente, no regime de escravidão brasileiro a desumanidade foi o pressuposto da relação. Não por acaso, o negro escravo era enxergado como despossuído de humanidade e como vida matável, conforme os caprichos do seu senhor.
Isso posto, é indicativo que no Brasil o momento de mais elevada visibilidade e tematização na esfera pública da experiência de violência imposta pela escravidão ocorra justamente na celebração do carnaval. Ou seja, apenas na carnavalização da barbárie encontraríamos a articulação generalizada de uma experiência de violência dirigida a um grupo social específico (os negros). Porém, o mesmo não se dito sobre a articulação generalizada do “trauma” em nossa sociedade. Concretamente, não se pode extrair aprendizado e muito menos universalismo moral da celebração festiva de uma experiência negativa que deveria ser articulada (em ritos) na forma de trauma compartilhado intersubjetivamente.
E o mesmo pode ser dito em relação a narrativa hegemônica nas ciências sociais brasileiras, que ainda insiste na ideologia da democracia racial. Ideologia que operou historicamente como uma “violência simbólica”, a qual fez a população brasileira, e em particular a população negra, reconhecer (e desconhecer) como “legítima” a relação social de dominação racial vigente em nosso país. Dominação racial que se expressa na distinção estética e ética dos corpos: entre o corpo branco (“belo”) e o corpo negro (“util ou funcional”).
Talvez esteja aqui uma das raízes de toda a nossa dificuldade, enquanto nação, na generalização e adesão a valores como os direitos humanos. Somos uma sociedade que ainda não aprendeu, na esfera dos valores e das práticas, a converter experiências passadas de violência em direitos. Apesar da codificação do abolicionismo e dos direitos humanos, não ritualizamos ou articulamos coletivamente a experiência traumática de grupos sociais específicos (genocídio indígena e escravidão dos negros) a ponto de senti-las como nossa. No Brasil, assim como os “erros”, os “traumas” coletivos são dos “outros” e não nossos (a exemplo do jovem estudante branco indignado com as cotas raciais que indaga sobre qual seria a sua responsabilidade sobre os erros do passado).
Com efeito, 13 de maio deve ser lembrado, mas não apenas como uma data que marca institucionalmente o fim da escravidão no Brasil, mas também como a data na qual o negro recém liberto foi abandonado a própria sorte, como salientou o sociólogo Florestan Fernandes em sua obra provocativa “A Integração do Negro na Sociedade de Classes”. Obra sociológica ainda ignorada por grande parte de nossos cientistas sociais, principalmente dentre aquela parcela de sociólogos e antropólogos (em sua maioria, ironicamente de cor branca) que ainda flertam irresponsavelmente com o mito da democracia racial. Com o termo híbrido “mestiço”, negamos cinicamente categorias como a “plurietnicidade”, “multiculturalidade” e “interculturalidade”. Em consequência, liberamos o racismo interseccional (discriminação de gênero e de cor; discriminação de classe e de cor) de modo opaco em nosso cotidiano.
Se não desejamos vivenciar datas históricas como apenas feriados demarcados em nosso calendário anual, devemos resgatar a memória passada da tragédia como de fato foi e é: como tragédia societal. Somente a partir da articulação do trauma particular de um grupo numa semântica de sofrimento generalizável poderemos aprender concretamente com a história (s) da (s) violência (s). Não como memória erudita do passado, mas como consciência moral coletiva do que não desejamos que se repita. Quando isso ocorrer, mais raros serão os indivíduos que rememoram acontecimentos violentos do passado (escravidão, fascismo, ditadura) como períodos nostálgicos de uma vida comunal “bela” e “heroica”.
Finalmente, 13 de maio não é uma data para se esquecer ou se carnavalizar, mas para se lembrar, ritualizar o luto, traumatizar culturalmente e se aprender coletivamente.