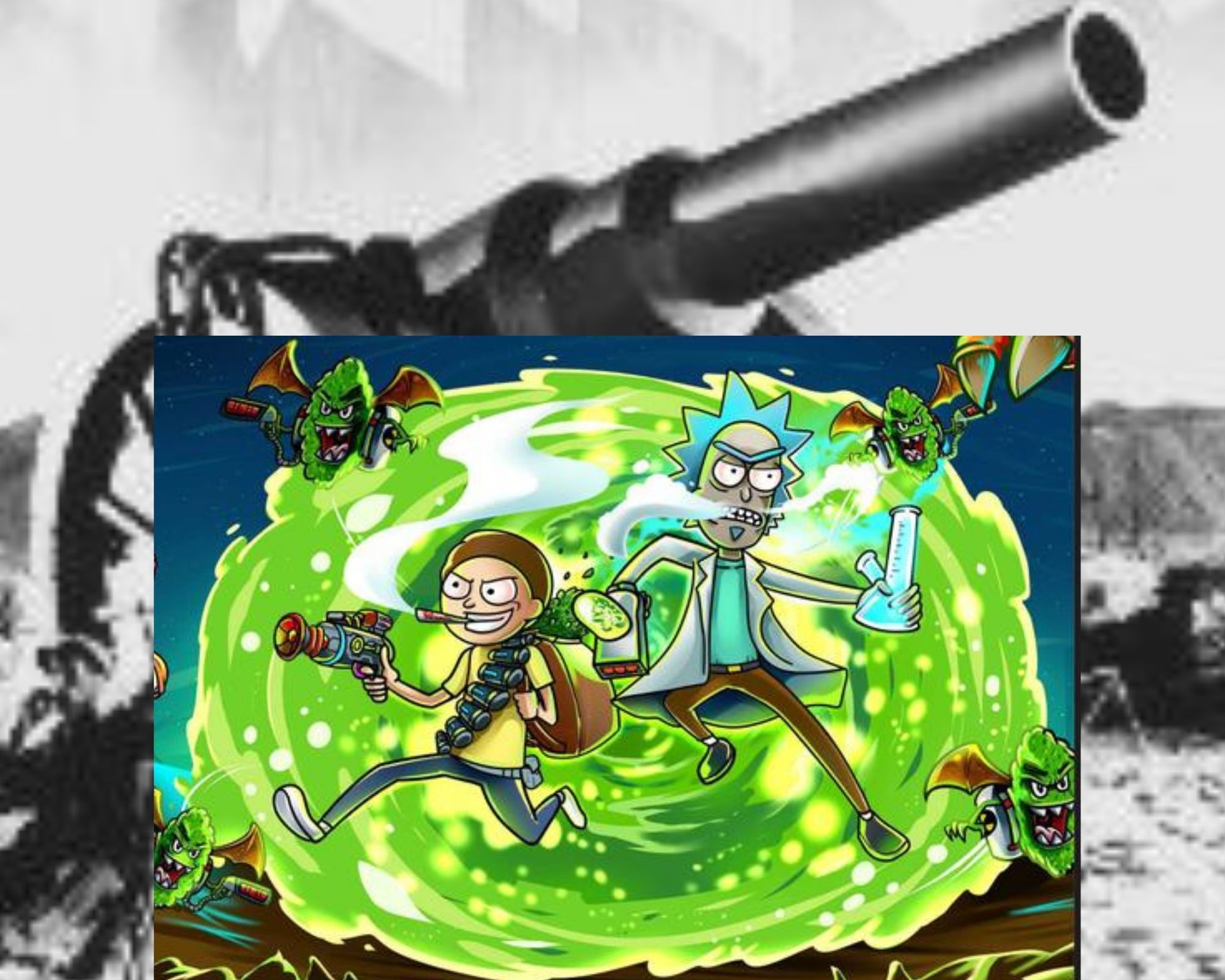Por Raphael Nascimento (Cientista Social)
No final dos anos 1970, um dos temas investigados por Michel Foucault foi a emergência de um tipo de poder exercido pelos Estados modernos. O biopoder, como chamou, estava centrado na regulação das populações, visava o controle das coletividades através da preservação da vida biológica. Por isso, os governos se valiam de instrumentos como a demografia e a estatística, além de outros saberes, para controlar as políticas de natalidade, os sistemas de saúde, os processos de urbanização e as demais ações estatais voltadas para a preservação da vida das populações. Para Foucault, a biopolítica – a política do biopoder – foi determinante para o desenvolvimento do capitalismo, pois potencializava a força dos corpos para o trabalho, ao mesmo tempo em que produzia populações obedientes.
 Entretanto, o filósofo francês percebeu que, ao lado das práticas de preservação da vida e disciplina dos corpos, havia o retorno de um poder que caracterizou como soberano, exercido de forma violenta sobre os indivíduos. As práticas punitivas que caracterizaram o medievo não tinham desaparecido, retornavam como um fantasma do rei sobre parte da população. Elas se concretizavam a partir de um corte sobre a sociedade, operando processos de separação que ditavam quem deveria permanecer com vida e quem deveria ser exposto à morte. Por isso que, do stalinismo ao nazismo, guerras foram travadas sob a justificativa da preservação da pureza das raças. A esse outro lado da biopolítica, Foucault deu o nome de racismo de Estado.
Entretanto, o filósofo francês percebeu que, ao lado das práticas de preservação da vida e disciplina dos corpos, havia o retorno de um poder que caracterizou como soberano, exercido de forma violenta sobre os indivíduos. As práticas punitivas que caracterizaram o medievo não tinham desaparecido, retornavam como um fantasma do rei sobre parte da população. Elas se concretizavam a partir de um corte sobre a sociedade, operando processos de separação que ditavam quem deveria permanecer com vida e quem deveria ser exposto à morte. Por isso que, do stalinismo ao nazismo, guerras foram travadas sob a justificativa da preservação da pureza das raças. A esse outro lado da biopolítica, Foucault deu o nome de racismo de Estado.
Na atualidade, Giorgio Agamben tem prosseguido essa discussão. Mas o que em Foucault é uma contradição dentro da biopolítica, em Agamben é um elemento constituinte das ações estatais que têm o corpo biológico como alvo principal. É nesse sentido que, em Estado de exceção, propõe uma arqueologia do direito, para investigar como o retorno do poder de matar se insere no discurso jurídico. Explorando um campo que havia sido pouco destrinchado por Foucault, mostra como o direito opera um processo que inclui os cidadãos enquanto, igualmente, os exclui. Para uma melhor compreensão disso, basta vermos o exemplo de qualquer ditadura.
Porém, a contribuição do teórico italiano para a política contemporânea está na possibilidade de pensarmos como os processos de exceção, que caracterizaram os regimes autoritários e totalitários no mundo, guardam fortes relações com as atuais democracias neoliberais. Se olharmos para a maneira como são tratadas a população LGBT, os negros e atualmente refugiados na Europa, veremos como o racismo de Estado e a política de exceção são retomados a partir das mais variadas formas, tendo como ponto em comum a produção de inimigos internos, elimináveis. Assim se constituem o que chamamos de vidas matáveis, aquelas para as quais as possibilidades de reconhecimento são negadas em todas as formas.
Não há maneira para compreendermos o que está acontecendo no sistema prisional brasileiro que não passe, direta ou indiretamente, pelas mesmas questões que levantaram Foucault e Agamben. Isso porque o crescimento das facções no país e a constante retirada de direitos nos processos jurídicos e nas condições de habitação de nossas prisões guardam fortes relações com as políticas de exceção sobre a parte da população que é vítima desse racismo de Estado. Pensar a partir desses dois autores não significa negar as singularidades do caso brasileiro, mas usar essas noções como um aporte para a reflexão sobre algo como uma exceção à brasileira.
A começar, as duas questões centrais para a análise do crescimento das facções no país são a guerra às drogas e os processos de territorialização desenvolvidos pelas facções criminosas. Como sabemos, desde a criação da Lei de Drogas de 2006, houve um aumento de quase 400% das prisões por tráfico. O encarceramento em massa promovido pelas políticas de drogas atinge, sobretudo, jovens negros das periferias do país, uma vez que a oposição estratégica entre usuário e traficante possui contornos de classe e origem étnica. Em um país que é constituído por representações dicotômicas de cidadãos de bem e bandidos, uma divisão como essa da lei de drogas só aprofunda as desigualdades nas formas de punição. São essas mesmas representações replicadas pelos programas policiais de todos os dias, a mesma divisão também reproduzida pelo populismo penal dos candidatos a cargos no legislativo e executivo. Divisão, portanto, que tem fortes semelhanças com aquela pensada por Foucault quando falou do racismo de Estado.
Esse mesmo corte também acaba legitimando a existência de territórios, nas grandes e pequenas capitais do país, totalmente desprovidos das instituições básicas e das condições de infraestrutura mínimas para a vida. Zonas onde o Estado só entra com as sirenes ligadas, espaços onde o expor a morte é banalizado e transmitido todos os dias nas televisões. Mas não é essa mesma recusa das instituições estatais que abre uma lacuna para outros processos de territorialização? Essa pergunta já vem sendo respondida há tempos pelas facções criminosas, que aproveitam o fomento produzido pela guerra às drogas para ocupar os territórios abandonados e construir suas empresas do tráfico.
O “problema” surge para os governos quando, por causa dessa mesma lacuna estatal, as facções começam a se inspirar na forma-Estado: comandando territórios onde quase tudo é possível, construindo suas microinstituições previdenciárias e estimulando exércitos para a defesa de seu território. O tráfico de armas e a disputa pelos espaços ocupados por outras facções são exemplos da verdadeira lógica de guerra reproduzida nas periferias brasileiras. É dentro desses conflitos que atuam nossas polícias, ora fazendo vista grossa diante do tráfico, ora reprimindo os pequenos traficantes. É por isso que podemos falar de algo parecido a uma exceção à brasileira, pois aqui os territórios da exceção acabam se constituindo como espaços de resistência à ordem instituída, tanto pela ação das facções, quanto pela ação das polícias.
A segunda problemática diz respeito a uma quase idêntica reprodução desses casos no nosso sistema prisional. Não esqueçamos que as prisões, como as periferias, são espaços da exceção, onde quase tudo é possível. E, assim como as favelas, estão sendo colonizadas pelas mesmas facções que, como eu falei, se apressam em ganhar a forma-Estado. Vejam o caso de Alcaçuz, em que cada pavilhão tornou-se território de uma facção. Os conflitos exibidos nos últimos noticiários são a melhor ilustração da guerra de que estou falando. Neles, os presos construíram suas estratégias, se armaram como puderam e foram, como autênticos soldados, em busca da conquista do território inimigo.
Mas entre a favela e os presídios existem outros espaços. Quando a guerra explode nesses dois polos, o território do meio também se torna uma zona em guerra. A óbvia constatação não parece ter sido feita pelos responsáveis pela segurança e sistema prisional dos estados que vêm sofrendo com esses conflitos, o que também não é de se admirar – nossos lampiões pós-modernos parecem ter outras preocupações. Como já mostrou o sociólogo escocês David Garland, a lógica punitiva contemporânea tem a retirada de cena dos especialistas em segurança pública como uma de suas características principais.
Dessa forma, vemos como toda a rede que culmina nos conflitos que assistimos nos últimos dias é produto da lógica de exceção capilarizada na sociedade brasileira, materializada na geografia excludente das cidades, nos discursos jurídicos dicotômicos e na atividade policial inquisitorial. Trazer o problema para o plano da política de exceção não significa tornar a discussão abstrata, mas não se render às armadilhas do poder, que cada vez mais oculta a produção crítica sobre a segurança pública e as desigualdades no país.
A pergunta que se coloca é: como esperar de um Estado que fomenta a exceção uma transformação dessas mesmas políticas e instituições? Questão parecida se colocava para Foucault quando, em 1981, criou o Comitê Internacional contra a Pirataria, que lutava contra o fim da violência contra os refugiados na Europa. Com seu manifesto Face aos governos, os direitos humanos, Foucault respondia à indagação chamando a população para a luta contra os episódios que motivaram sua militância. Entretanto, seu apelo não deixava de colocar os direitos humanos sob suspeição – como fez durante toda a sua vida –, numa tentativa de fugir de um humanismo que muitas vezes se confunde com a ordem. Também podemos dizer que a luta pelos direitos humanos deve escapar das ingenuidades que podem surgir pelo caminho. Basta vermos o exemplo da fracassada tentativa de humanização das prisões do Rio durante o governo Brizola, rechaçada pelos próprios presos, para percebemos que a questão é muito mais complexa e envolve, necessariamente, a luta dentro e fora do sistema prisional contra o estado de exceção que vivemos.